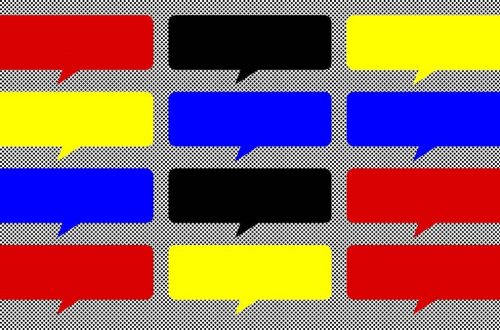O espaço virtual é considerado a expressão da perfeita esfera pública, capaz de grande pressão política, mas a plataforma hoje é controlada por duas granes empresas mundiais
TEXTO Luiz Carlos Pinto
A internet já foi considerada o terreno por excelência do exercício da política – um espaço de livre expressão e liberdade, a esfera pública perfeita e que revolucionaria o mundo, pressionando e cobrando democraticamente governos, explicitando injustiças. Parte dessa expectativa se deveu à utopia que alimentou sua construção na década de 1960 – na forma de uma estrutura distribuída, descentralizada, baseada em servidores autônomos. Entretanto, o cenário atual é o da acelerada transformação da internet na pior e mais extrema forma de repressão e dominação já vista na história da humanidade – controlada por poucas plataformas de comunicação e gerenciada por algumas corporações. O cenário mais pessimista é o de que esse Leviatã pós-moderno seja estruturado por duas grandes empresas (Google e Facebook), com o agravante de serem espécies de braços longos do sistema de vigilância global imposto pelos Estados Unidos.
A transformação acelerada dessa invenção em mais um espaço controlado
e limitador das capacidades expressivas, entretanto, não é um fato
dado. A internet ainda é um terreno em disputa. Mas, na sua configuração
atual, projetada para eliminar a voz da maioria e dar evidência à voz
das elites dos países do Ocidente, as narrativas divergentes dos poderes
instituídos global e localmente estão fortemente ameaçadas. Pior: a
perda da capacidade emancipatória que a internet já teve é também
resultado do modo acrítico com o qual as tecnologias hoje disponíveis
são usadas. A reconquista desse espaço como campo de ação e articulação
política dependerá, nos próximos anos, do aprendizado crítico do uso das
redes sociais, da capacidade de apropriação de linguagens e da
salvaguarda da privacidade – aliás, um dos temas de maior relevância
política deste século.
BOLHAS ALGORÍTMICAS
Há
alguns anos, pesquisadores da cultura digital e ativistas ao redor do
mundo se acostumaram à ideia de que a internet e suas potencialidades
emancipadoras estão sob ataque. Os fronts dessa disputa são
basicamente dois: as legislações e os recursos tecnológicos que limitam o
direito à comunicação. Esses campos se expressam de diversas maneiras.
Uma delas é a formação de bolhas de interesse estabelecidas por
algoritmos.
O caso típico é o Facebook. Nessa rede, os usuários navegam em um
fluxo de informações que lhe são oferecidas em função de seus interesses
pessoais, de suas conversas, das navegações que fazem em outros sites,
das conversas que têm ao telefone, em trocas no WhatsApp (empresa do
Facebook), dos encontros físicos com outros usuários, em função ainda
das conversas que têm pessoalmente ou via telefone, das afinidades
eletivas com outros usuários da rede, de compras realizadas na web ou
não, entre muitas outras atividades que formam os perfis de interesse e
de consumo dos seus usuários. O desenho desses perfis é tão bem-feito,
que “os números recentes mostram que os usuários do Facebook passam em
média cinco horas por dia ligados à plataforma”, afirma Marcio Moretto,
professsor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. A maior
parte desse tempo é gasto em interações programadas pela empresa de Mark
Zuckerberg.
“A consequência para a política pode ser, na
verdade, a construção da não política. A política pode ser entendida
como a ‘economia da coexistência’, ou seja, um ambiente em que as
pessoas negociam e fazem acordos para poderem viver em sociedade. Mas,
para isso, é preciso que haja diálogo e empatia a fim de que cada ser
humano entenda ser parte de algo maior e diverso, e possa se colocar no
lugar do outro para produzir entendimentos comuns”, afirma Marco
Konopacki, coordenador de projetos do Instituto de Tecnologia e
Sociedade (ITS–Rio). “Quando se criam essas bolhas, as consequências
podem ser a intolerância, a arrogância ou, pior ainda, o medo do outro,
simplesmente por desaprendermos, aos poucos, a lidar com a diferença”,
completa. Parece familiar?
Por um lado, há uma total opacidade do funcionamento dos algoritmos: “Há quem defenda a necessidade de um debate mais profundo sobre os termos de uso e maior transparência em relação aos algoritmos adotados pelas plataformas, de modo a esclarecer limites e possibilidades de atuação em cada uma delas”, afirma a analista do centro independente de pesquisa interdisciplinar InternetLab, Beatriz Kira.
Por outro lado, há a quase total transparência dos dados dos usuários. Não fosse a entrega sistematicamente voluntária destes às suas redes de preferência – as bolhas de afinidade –, o poder de barganha das redes sociais junto ao mercado e aos governos, seu poder de edição da web e, no final, seu poder político, não seria tão grande. A multiplicidade de narrativas e do encontro de ideias não estaria tão ameaçada.
“As redes sociais não são feitas (e refeitas, porque os algoritmos
estão sempre mudando, sendo aperfeiçoados) para o debate político, mas
para venderem coisas e pessoas”, completa Rafael Evangelista,
pesquisador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (LabJor)
da Universidade de Campinas.
PERFIS DOS USUÁRIOS
Esse
processo não se restringe às redes sociais. Está se expandindo para
outros sites na web e não há sinais de que vai parar: alguns dos
principais portais de notícias no mundo já fornecem conteúdo em função
dos perfis dos usuários, que são criados por meio do rastreio de
informações pessoais feito nos computadores, nos e-mails, nas interações
nas próprias redes, no histórico de consumo pago com cartões de
crédito, entre outros. “Definitivamente, essa é uma tendência. Não sei
se grandes portais brasileiros investem nisso, mas creio que, se não o
fazem, é questão de tempo”, afirma Moretto.

Há 10 anos, o advogado norte-americano Lawrence Lessig argumentava
que um novo campo de legislação havia emergido. O que um dos inventores
do Creative Commons propunha está se realizando plenamente agora: os
controles sobre o ambiente digital podem ser vistos como uma
normatividade paralela, ou externa, ao escrutínio dos canais
democráticos de regulação. Com efeito, tanto leis quanto normas sociais
são introjetadas pelos indivíduos maduros e integrados à sociedade. A
aplicação das legislações aos comportamentos que contrariam o que
definem tais leis é feita por intermédio de instituições cujo
funcionamento é público. O que vem sendo chamado de regulação
arquitetônica ou pelo código, no modelo de Lessig, funciona de forma
diferente: os processos sociais ou a intervenção de instituições ou de
indivíduos, no âmbito de uma economia de bens simbólicos, em face às
amplas possibilidades de digitalização e das redes de informação, estão
sendo progressivamente ameaçados e reduzidos.
Hiperconectividade: fenômeno social contemporâneo evidencia o alheamento e o autocentramento coletivo. Foto: Reprodução
As razões desse processo são, de forma mais evidente, comerciais: fazer o usuário passar a maior parte de tempo possível naquele espaço murado, que lhe oferece a todo tempo informações que lhe são úteis e interessantes para que a exposição publicitária seja mais efetiva. Mas a edição da web começou de uma forma um pouco diferente, com o estabelecimento do Google como mecanismo de busca dominante – o que implicou em uma primeira concentração de poder e de informação (ou se preferir, de informação sobre informação).
Esse sistema de busca acabou se tornando o mapa, o direcionador da rede, o lugar que quase todo mundo usa para saber onde está o quê. Se esse mapa manipula, ou se, simplesmente, não podemos saber se ele está manipulando, porque não temos acesso a como ele funciona, já é um problema por si só. Nos Estados Unidos, 76% das buscas são feitas no Google – dados da Thoughtworks Foundation. A média global oscila em torno de 85%. No Brasil, é diferente. Segundo a Serasa Experien, a empresa de Mountain View detém 95,2% das buscas na internet brasileira, por meio do Google Brasil e das demais versões do site focadas em outros países. O segundo lugar é ocupado pelo Bing, da Microsoft, e estima-se que essa posição privilegiada só é possível porque a empresa de Bill Gates força a barra e associa seu serviço a dois produtos integrantes do pacote que vende: o Messenger (mensageiro instantâneo) e o navegador Internet Explorer.
Qual a consequência disso? A falta de pluralidade do mapa que o
Google faz da internet e que as pessoas usam para se deslocar. Mas o
maior prejuízo está na forma da progressiva perda do hábito da navegação
não linear, em que a curiosidade era alimentada por hiperlinks nos
conteúdos e se desenhavam percursos muito pessoais e plurais de acesso e
produção de informação.
CONCENTRAÇÃO DE TRÁFEGO
A
concentração de tráfego decorrente do processo de edição da web e da
pluralidade das narrativas (que era típica da internet em seus anos
iniciais) é agravada pelo fim iminente da neutralidade da rede. É fácil
entender o sentido desse termo, que nos últimos tempos se tornou mais
popular no Brasil. Ele indica que “quem controla os cabos (e toda a
estrutura física) por onde passam os dados e informações precisa ser
neutro em relação a essas informações”, afirma o professor Sérgio
Amadeo, da UniABC.
Também é fácil compreender os efeitos da possível queda do princípio da neutralidade (com a qual, aliás, a internet foi construída): a melhor analogia é com a TV paga. Se a neutralidade cair, a internet se transforma em algo parecido com uma TV a cabo, na qual algumas pessoas e algumas empresas decidem o que você pode ver ou não, quem verá mais conteúdo com qualidade mediante pagamentos extras. A consequência da consequência: basicamente, esse sistema reorienta a visibilidade de ideias e crenças, que deixam de circular livremente. Isso é o contrário do projeto original da internet.
Hoje, há tecnologias disponíveis que permitem discriminar os conteúdos na rede criando pistas com velocidades diferentes, o que estabelece uma competição desigual por visibilidade na web, o que, por sua vez, também contraria o projeto original da internet. A ideia original era que um “site qualquer que eu pudesse hospedar, até mesmo em casa, de forma doméstica, estaria tão facilmente acessível quanto o site de uma grande empresa jornalística”, afirma o pesquisador Rafael Evangelista. “Daí se derivava a ideia de que, a partir de qualquer lugar do mundo, se tinha acesso a qualquer conteúdo. Isso já não é mais verdade”, completa.
As razões dessa alteração são políticas e econômicas e se expressam, como já mencionado, por meio de tecnologias e de legislações. Na prática, quem lança mão dessas tecnologias são empresas de telefonia e governos – algumas vezes, essas corporações o fazem por interferência legal ou ilegal de governantes.
Como funciona? Muitas empresas de telefonia identificam que boa parte do tráfego de dados de alguém é devido ao download de filmes e músicas, ou a serviços de streaming como da Netflix. E concluem que poderiam faturar mais, pois aquele conteúdo ocupa demais suas estruturas. Nesses casos, acionam filtros que reduzem a velocidade do serviço – mais ou menos igual a quando se interfere no fluxo de água de uma mangueira, ou quando se interfere no fluxo de amadurecimento de uma democracia.
Assim, na prática, a neutralidade da rede é garantida legalmente (leia o texto a seguir), mas é aviltada facilmente. As tentativas em curso são de atribuir status jurídico e legal ao que as empresas de telecom já fazem. (Sobre o caso brasileiro, leia texto da página 40 sobre as consequências da CPI dos Crimes Cibernéticos.)
O caso emblemático é a questão que envolveu a Comcast (maior provedora de internet nos Estados Unidos e terceira maior empresa provedora de serviços de telecomunicações desse país) e a Netflix, em 2013, nos Estados Unidos. A empresa tentou cobrar à Netflix pelo tráfego diferenciado que gerava. Durante as negociações, a Comcast reduziu a velocidade dos dados do Netflix e, quando o acordo foi selado, a velocidade voltou ao normal.
Mais: o Facebook estabeleceu acordos com provedores para receber tratamento diferenciado. Em muitos casos, a navegação em suas páginas não é descontada do pacote dos clientes desses provedores. Isso explica, ao menos em parte, a estabilidade da navegação nessa rede social. Esses acordos estabelecem um pedágio seletivo gerando forte desigualdade competitiva na web. Os provedores, por seu lado, fazem isso para atingir seus clientes de alguma forma.
O argumento das empresas de telecom é que elas construíram a estrutura e que, por isso, podem tarifar e monetizar da maneira que lhes aprouver. É um argumento falacioso. Mais ainda no caso brasileiro: a construção dessa infraestrutura foi financiada em sua maior parte com dinheiro público por meio de empréstimos, subvenções, redução de tarifas de importação e/ou foi herdado dos processos de privatização do sistema Telebras durante o governo Fernando Henrique Cardoso.
O entendimento da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da OEA, assim como da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da ONU, é de que a internet é uma infraestrutura pública construída para o bem público, deve ser encarada como tal e protegida igualmente como bem público – como a água e a eletricidade.
A internet pode parecer esse lugar em que todos têm as mesmas condições de falar e serem ouvidos. Mas, na verdade, o tráfego está cada vez mais concentrado em portais, plataformas de algumas poucas corporações americanas. As plataformas que concentram a maior parte do conteúdo da internet são centralizadas e de código fechado. Isso significa que seu funcionamento é decidido por poucas pessoas e de forma não transparente, o que permite a realização de operações invisíveis aos usuários – como o acesso a nossas informações pessoais por agências de governo.
Mas as restrições impostas pela quebra de neutralidade, legal ou não,
também impedem a criatividade. Criações como o YouTube e o Vimeo não
teriam sido possíveis sem a neutralidade de rede. Seus criadores não
precisaram pagar a mais por testar suas engines, nem de
autorização de ninguém. Essa cultura da autorização – mais um conceito
desenvolvido pelo jurista Lawrence Lessig que está se confirmando – mina
a criatividade e as possíveis formas de expressão ainda não inventadas.
MERCADO
A
consequência mais imediata da quebra da neutralidade é o fechamento e a
redução de conteúdo livre na rede, ou seja, a restrição à informação,
cultura e conhecimento disponíveis. E, se o mercado não é competitivo,
se ele é marcado por oligopólios, a implementação de tais restrições é
ainda mais violenta. E tende a ser feita por quem administra a estrutura
física de banda larga. Essas empresas controlam a oferta do serviço e
limitam as opções de acesso, além de fazer lobby para a
aprovação de leis e regulamentações que flexibilizem a neutralidade de
rede – vide as pressões recentes sobre a CPI dos Crimes Cibernéticos. O
cenário é ainda mais grave, quando analisamos a infraestrutura
internacional. Mais de 70% dos principais troncos da rede pertencem a
uma única empresa, a Leve.
No Brasil, Vivo, Tim, Claro e Oi concentram quase 100% do mercado de celulares, 76% dos telefones fixos, 60% do mercado de televisão a cabo e 86,7% da banda larga fixa. Com as conexões via TV por assinatura (tecnologias cable modem, MMDS e wireless), a situação é de ainda mais concentração (a NET ocupa sozinha 24,21% do mercado). E as conexões via provedores confirmam o gargalo: embora existam no Brasil 1.761 provedores, essas empresas fazem uso de apenas quatro estruturas de rede – a Embratel detém 41,2% desse mercado, seguida da Oi/Telemar (31,6%), Brasil Telecom (26,9%), Telefônica – GVT/Vivo (15,3%), segundo dados da Pesquisa Teleco Provedores de Banda Larga. Observar que, nesses percentuais, de março de 2008, a Oi/Telemar e a Brasil Telecom ainda não eram contabilizadas como uma só empresa.
A aquisição da BrT só se daria após acordo fechado no dia 25 de abril de 2008, à noite, o que pôs fim à maior disputa acionária da história do país. O negócio só foi possível com a mudança da Lei Geral de Telecomunicações, que, antes da intervenção do governo federal, não permitia a fusão entre a Telemar e a BrT – cujo fruto é a Oi, maior empresa de telecomunicações da América do Sul.
A concentração de estruturas físicas facilita outro front de redução da pluralidade na rede, formada pelas legislações de direitos autorais. Com efeito, essas legislações servem como argumento para a retirada de conteúdo de sites, quando não de censura mesmo – aliás, uma das possíveis modificações ao Marco Civil da Internet sugerida no relatório da CPI dos Crimes Cibernéticos.
Original post: https://www.revistacontinente.com.br/edicoes/186/internet–um-espaco–nao-tao–livre-e-democratico